O Conselho de Ministros aprovou recentemente um conjunto de medidas direccionadas para a ciência. O diploma aposta no “estímulo ao emprego científico”, estabelece regras sobre a avaliação e o financiamento público de I&D e pretende reforçar a capacidade científica e tecnológica nacional assim como promover a qualificação da população portuguesa. A este propósito, o Correio do Ribatejo esteve à conversa com Miguel Botas Castanho, doutorado em Bioquímica pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Natural de Santarém, onde reside, Miguel Botas Castanho é professor catedrático de Bioquímica da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, onde nos recebeu, deu a conhecer o seu trabalho e falou sobre o ‘estado da arte’ da ciência ‘made in’ Portugal.
Qual é o ‘estado da arte’ da investigação feita em Portugal? A investigação que se faz em Portugal é genericamente de boa qualidade. Em termos de padrões europeus, e com a produção que temos em conhecimento, medida, por exemplo, em termos de publicação de artigos científicos, estamos bem. Temos, até, uma investigação de grande qualidade, face ao investimento realizado. Contudo, o que se passa, é o seguinte: temos centros onde se faz uma investigação de excelência e outros, nem tanto. Portanto, é um sistema bastante heterogéneo. A média não está mal, mas é uma média muito conseguida à base de alguns centros que são extremamente competitivos. É preciso também ter a noção de que, passar do muito bom – mesmo em termos internacionais – para o excelente – implica um investimento muito grande. Ascender ao último patamar depende de tecnologia muito sofisticada, máquinas com capacidade de resolução e análise que são extremamente caras: esse último patamar que separa o muito bom do extraordinário é um passo muito difícil de dar para um país como Portugal. E aí, nota-se a diferença entre o nosso país e outros com um maior poder económico. Existe ainda um outro facto importante nesta matéria da competição pelos mesmos recursos na Europa, que tem a ver com a imagem e a tradição de cada país. Portugal não é visto como uma potência da inovação ou da tecnologia e isso leva a que tenhamos que pagar um grande preço. Aliás, todo o sector das indústrias tecnológicas, por exemplo, fala disto. Têm dificuldades acrescidas em exportar ou fazer parcerias porque Portugal é visto como um óptimo país para turismo, mas não é o primeiro país que vem à cabeça quando se fala em ciência, tecnologia, inovação, produtos de frente de onda, em termos de tecnologia. E isto tem custos em termos de competitividade. Quando eu me candidato a fundos na Europa para desenvolver um fármaco contra um determinado vírus – como fizemos com o Zika, em que obtivemos um financiamento muito importante – o mesmo projecto vindo de uma Universidade Portuguesa ou se aparecesse, por hipótese, de uma Universidade prestigiada de um país considerado tecnologicamente muito avançado, seria encarado de forma diferente e, por muito bem que seja feito o concurso, por muito neutro que seja o júri, o que é certo é que se cria uma empatia mais forte para organizações e países com maior tradição. Claro que isto é involuntário, mas é um factor que, aliás está demonstrado num estudo publicado recentemente, no qual foi analisado uma série de candidaturas e processos de avaliação de uma agência europeia e verificou-se que factores eram decisivos na competitividade dos projectos após avaliação. Foram ponderados o género, a proveniência geográfica, idade, entre outros. E, sem grandes surpresas, chegou-se à conclusão que o factor geográfico é determinante. Demonstra-se que existe um enviesamento que favorece alguns países. Volto a frisar que tudo isto é involuntário: Volto a frisar que tudo isto é involuntário: não são os avaliadores que conscientemente favorecem um país em detrimento de outro, mas a imagem do país cria um élan e um contexto que se faz notar.
Ou seja, os investigadores nacionais raramente concorrem em pé de igualdade com os seus congéneres europeus? Sim, claramente. Em Portugal para um investigador conseguir o mesmo tem que trabalhar muito mais. existe um factor de sacrifício que é acrescido. E que tem a ver com o facto de, na ciência, como um pouco em tudo, sermos também um pouco ineficientes. Somos mais ligados à obediência ao processo do que à eficácia do resultado. Somos extremamente escrutinados pela forma como fazemos compras e se obedecemos a todos os trâmites de contratação pública mas, curiosamente, somos menos escrutinados em relação aos resultados que conseguimos produzir com o financiamento que nos é dado. Ou seja: a forma como utilizamos o financiamento é muito mais escrutinada do que a eficácia da nossa acção com o financiamento que nos foi dado. E isso é um sinal de que somos muito ligados à forma e pouco ligados ao conteúdo e ao impacto do conteúdo. Isto para a ciência – e para o País de uma forma geral – é um factor negativo. A ciência tem que gerar conhecimento e deveríamos estar focados naquilo que a ciência gera e não na forma como utiliza os recursos.

De que forma, a seu ver, se poderia incrementar a transmissão de conhecimento produzido na academia para o tecido empresarial e para a sociedade? Esse é um factor essencial, que se liga com o impacto económico da ciência. Existem países que fazem isso muito bem, outros, nem por isso. A passagem do novo conhecimento para a sociedade em geral é fundamental. Os Estados Unidos, por exemplo intuíram isso mesmo: que o desenvolvimento se fazia à conta de ciência e tecnologia. Perceberam isso no período pós- guerra e foi isso que tornou os Estados Unidos naquilo que são hoje. Foi essa percepção. Não é só uma questão de incorporar um dado objecto, a nova molécula num medicamento. É todo o entendimento de como funciona a sociedade que é mais objectivo, mais fundamentado nos factos, nos resultados, do que na opinião. Uma classe dirigente que atende mais aos factos, aos estudos e decide baseado em dados objectivos e estruturados, tendencialmente produz melhores decisões e o país desenvolve-se mais. E isto é válido na política, nas empresas e também em várias outras circunstâncias. Em Portugal, tivemos recentemente o espectáculo muito triste de ver a Assembleia da República a decidir sobre as vacinas e o plano de vacinação sem sequer ser aconselhado por um profissional em vacinação. É o grau zero da objectividade em política e da ligação da ciência à sociedade. Países onde a ciência está bem ligada à sociedade – e não só à economia – isto não acontece. O poder político informa-se. Temos boas Universidades, bons especialistas, mas, creio, trata-se de um problema de isolamento, de falta de sensibilidade, neste caso da classe política, para saber onde se pode informar e como deve decidir. Agora, é um facto, que temos um problema de ligação do potencial cientifico à sociedade e, em particular, ligação às empresas, que poderiam beneficiar muito a economia. Porque é que isto não acontece? Porque Portugal tem uma economia – que agora está a mudar – que tradicionalmente era muito ligada à mão-de-obra barata e à empresa familiar, portanto pouco aberta em incorporação de inovação. Embora estejamos em rede com o mundo global, somos periféricos com o mundo global. E como Portugal tem a imagem de ser um país onde se vai fazer umas férias boas, com bom sol, boas praias, isso preenche o imaginário daqueles que seriam os nossos parceiros para a inovação…. Depois, há uma grande falta de foco que vem da falta de tradição: a tradição é importante porque já traz um certo historial, um certo envolvimento e, normalmente, já se encontraram nichos em sectores que se tornaram mais fortes, porque o foco é na concentração de recursos. Estamos a ter um caso muito interessante com a indústria do vinho em Portugal porque está a incorporar muito a ciência e a tecnologia. É um excelente exemplo disso, e não é só a inovação e tecnologia: estes aspectos ligam-se ao marketing, ao design, à forma como se vende, ao estudo do consumidor e ao que o consumidor quer. Portanto, esta ideia de incorporação e inovação da ciência não é só a molécula, a célula, a bactéria, não é só o mundo material. É toda uma visão de conjunto que também passa por muitas questões imateriais e por outros campos, como a economia. Em suma: é este espírito de incorporação e inovação da tecnologia que vai além da simples matéria e da molécula e da célula que nós temos que incorporar. Possuímos uma agência que, supostamente, apoia e é dedicada a esta interface, entre as empresas e a ciência, que é a Agência Nacional da Inovação, temos a Fundação para a Ciência e Tecnologia, mais ligada aos incentivos à investigação em si, depois temos outra que seria para articular o mundo das empresas e da investigação. Infelizmente, há muito caminho para fazer, com alguns casos de sucesso, mas ainda não temos uma proporcionalidade entre sucesso e investimento. Muitas empresas são criadas com o espírito de aproveitar aquele recurso, sobrevivem quando há esse recurso e apoio e depois morrem. Não é que isso tenha algum problema, temos de encarar que quando uma empresa de biotecnologia fecha, não é necessariamente um fracasso. Nesta zona de investigação, lida-se com o desconhecido, o risco do desconhecido e às vezes não resulta e isso não é um fracasso em si, é uma circunstância. Só que entre dez tentativas, algumas têm de resultar e o problema é criar a empresa só para aproveitar aquele recurso. Uma empresa real aproveita o impulso do recurso, mas é suposto sobreviver a seguir. E, portanto, ser sustentável dentro do mercado. Mas muitas vezes, são criadas empresas quase como se fossem uma academia. Isto é: o meu grupo de investigação, o que faz, é candidatar-se a fundos europeus: são pessoas competitivas, arriscam tudo, suam as estopinhas para ter fundos e fazer a investigação. Mas isto é o mundo da ciência e o mundo da investigação mais pura, digamos assim, que gera conhecimento. Esses outros fundos, que são para criar empresas de biotecnologia, ajudam determinadas empresas a chegar ao mercado para, depois, quando chegarem e conseguirem vender, alimentarem-se a si próprias dentro daquilo que é a vida de uma empresa. Só que, por vezes, existe um vício de forma, porque se cria a empresa mais a pensar naquele subsídio, não como incentivo, um catapultar para o futuro, mas porque está lá o incentivo… Uma coisa é ter gasolina, outra, é ter um carro que gasta muito e, depois, o pior é ter pouca gasolina e um carro que gasta muito ao mesmo tempo. Às vezes, em Portugal, temos esta sensação: a gasolina não é muita e o carro gasta muito.
E em termos dos “condutores dos carros”, neste caso os investigadores, acha que o país tem um ecossistema favorável o trabalho cientifico? Eu não tenho uma visão negativa. Sou um optimista. Podemos escolher duas formas de nos analisarmos. A auto-avaliação é uma coisa que fazemos mal em Portugal, mas podemos escolher duas maneiras: uma leva-nos a uma enorme depressão e a outra leva-nos a alguma alegria. A versão da depressão é compararmo-nos com os outros: “na Alemanha ganham mais, têm mais dinheiro, isto aqui não é nada como na Alemanha e não é nada como isto, nada como aquilo e não é como a Suíça, etc” e, pronto, deprimimo-nos a pensar que aqui ganhamos menos e não temos o dinheiro que eles têm. Esquecemo-nos, depois das coisas que nós temos e eles não têm… Mas, em termos profissionais, o que podemos escolher para termos algumas alegrias é compararmo-nos com nós próprios e reflectir: onde é que eu estava há 20 anos ou onde é que eu estava há 10 anos e o que é que mudou de lá para cá. Não tem nada a ver, claramente, o mundo e Portugal mudou e tem evoluído continuamente com todos os problemas, os defeitos que conseguimos encontrar muito facilmente, mas mudou e a tendência de evolução é extremamente positiva para Portugal. O que é que nos falta? Falta-nos reflectir sobre nós próprios, o que é que faz o carro gastar tanto? O que é que eu tenho de fazer ao carro para ele gastar menos? Acredito que nos próximos meses não vai haver muita gasolina, o que é que eu vou fazer para aumentar a eficiência do meu carro? O problema não vai ser resolvido se lhe aumentar a potência, mas, se calhar, ajuda afinar o motor ou escolher bem o caminho. O que nos faz muita falta é conseguirmos olhar para o sistema e conseguirmos analisar-nos a nós próprios. E, na ciência, também é assim. Faz-nos falta alguma meditação sobre as redundâncias, verificar se estamos a construir sinergias, se os recursos estão a ser bem aplicados, e em empresas reais que conseguem sobreviver no mercado. Falta-nos ver se a nossa investigação no sector da saúde está devidamente ligada e se está a impulsionar o Serviço Nacional de Saúde e prestação de cuidados no país… se calhar não está. Quando estive na FCT, foi criada uma Agência de Investigação Biomédica que nunca saiu do papel. Não aconteceu mais nada, entretanto. E este pequeno exemplo demonstra como algo que era bom se tornou num enorme desperdício. Isto, de alguma forma, ilustra o que um país não deve fazer e porque se torna pouco produtivo.
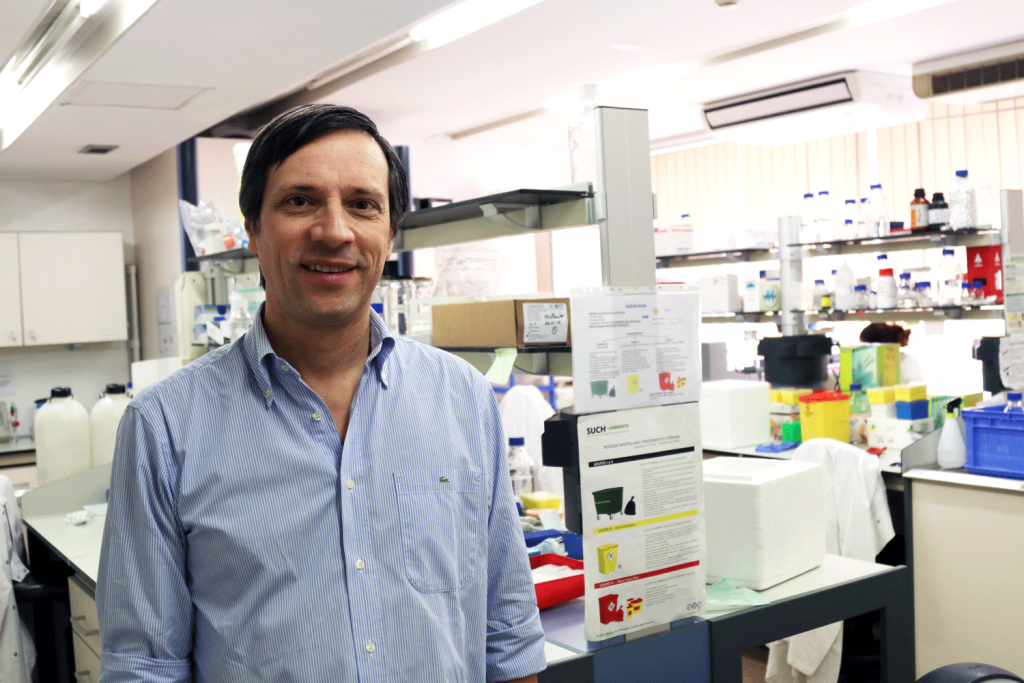
A precariedade do emprego científico mantém-se? A ciência tem um problema real de precariedade. Durante muito tempo que se remunera trabalho científico com bolsas, o que é uma fantasia, uma completa fantasia. Porque a bolsa de estudo é uma compensação, um subsídio que se dá a alguém para progredir nos seus estudos, para assegurar que continuam a progredir para termos profissionais altamente qualificados. O problema é que, depois do doutoramento, as pessoas começavam a fazer trabalho, começavam a ter emprego mas, por questões de recursos, e outras ligadas à fiscalidade, pagavam-se com uma bolsa – que não merecia sequer o nome de bolsa – que era uma forma de mascarar a realidade. Enfim, houve um cavalgar desse sistema. Eu tive o orgulho de fazer parte do processo que visou acabar com esta fantasia e de iniciar um procedimento em que as bolsas pudessem ser substituídas por contratos de trabalho e, portanto, racionalizar o sistema. A questão é que a discussão, que até determinada altura, era da organização do mundo científico, se tornou numa discussão completamente política e politizada. E quando se fala não pela convicção das ideias ou porque estão convencidos de que actuar daquela maneira é melhor, mas sim porque se têm de confrontar entre si e criar zonas de disputa, a discussão sai da esfera da racionalidade, entra na esfera do confronto partidário e começa a dispersão e descontextualização. Foi isso que aconteceu com o emprego científico. Tornou-se numa disputa altamente politizada, completamente fora de sentido e aquilo que estava para ser uma acção realista, com o problema bem parametrizado, calendarizado no tempo, o que aconteceu foi que os partidos começaram a não se entender, nem sobre montantes, nem sobre calendários, nem sobre beneficiários. Apareceu um decreto-de-lei que não tem qualquer relação com a realidade, extremamente mal feito e confuso que começou a atrasar a implementação das soluções e, pior que do que isso, levam a alterações na legislação que conseguem ser piores do que a inicial. Portanto, não há orçamentação possível, portanto, não há implementação que não seja um caos e entra-se numa fase de que não se sabe a quem se aplica, não se sabe exactamente em que circunstâncias ou montantes e a Fundação para a Ciência e Tecnologia passa a ter obrigações que ela própria não consegue orçamentar. O resultado é que, de entre 5 mil empregos que estavam previstos, até agora, passados cerca de dois anos, estão 1500 efectivamente resolvidos. Por outro lado, a prazo, teremos outro grande problema: as bolsas foram substituídas por contratos com uma duração definido, de seis anos, renováveis ao fim de três, o que quer dizer que se não houver condições para sustentar o pagamento desses contratos, este emprego, vai acabar tudo em desemprego. Isto não é o propalado emprego científico é o desemprego científico adiado. Para falarmos de emprego científico estaríamos a falar das condições que o sustentam dentro da economia real, dentro da actividade normal do país. Temos, a montante, um outro problema relacionado com a robustez das instituições que, por norma, sobrevivem dos fundos públicos que conseguem captar em concursos competitivos à escala europeia A FCT deveria ter na mão a chave da solução do problema e ser parte absolutamente essencial da construção da solução, do diagnóstico, mas foi completamente posta de parte: foi sugada pelo universo da política e, infelizmente, a política é tudo menos cientifica: entramos num universo da disputa e no campo da guerrilha e das quezílias interpartidárias, que infelizmente, se esqueceram que o país existe.
Ainda há pouco falava da ingerência do Governo no plano de vacinação. Actualmente, os movimentos anti vacinação têm vindo cada vez mais a ganhar terreno. Existe um perigo real para a população? A questão da vacinação é muito interessante porque faz confrontar a liberdade individual de cada um com a liberdade e a protecção da população. Verifica-se o perpetuar de algumas convicções que são contra a maior evidência científica e que têm levado ao ressurgimento de algumas doenças que estavam praticamente erradicadas de algumas zonas do globo, nomeadamente em países com sistemas de saúde mais organizados e mais avançados. O sarampo, por exemplo, já tinha sido declarado controlado e agora aumenta de importância como um problema de saúde pública, em consequência do incumprimento dos planos de vacinação, afectando a imunidade individual e de grupo. Basta que uma pequena fracção de pessoas não esteja vacinada para que um determinado vírus ou bactéria possa sobreviver, possa progredir e, portanto, comprometer a saúde dos restantes. Vemos o caso o sarampo: o facto de algumas pessoas escolherem não vacinarem os filhos – dando oportunidade a que este vírus extremamente infeccioso de se instalar e de progredir – coloca automaticamente em causa a saúde e a vida dessas crianças assim como a saúde e a vida das pessoas que, embora sendo vacinadas, a inoculação não resultou. Não está tanto em causa o direito que a pessoa tem ou não de se vacinar, está em causa o direito da vida e da saúde das outras pessoas todas. A não vacinação é, muitas vezes, um acto criminoso, na medida que é um acto de risco óbvio para a saúde e a vida de outros. Agora, isto revela mais do que uma simples embirração de algumas pessoas contra as vacinas: advém de falsas notícias, por um lado, e falsas verdades por outro. Tudo isto é um sinal do tempo moderno, da difusão muito rápida de informação sendo que nem toda a informação é credível. A rapidez da disseminação da informação, que é permitida pela tecnologia de hoje em dia, não é acompanhada pela velocidade que se consegue credibilizar a informação. E a informação credível tem de ser testada, sujeita ao contraditório. Por isso, demora mais a aparecer e quando aparece, já está completamente disseminada uma série de preconceitos, de falsas, de meias verdades, de falsidades e é muito difícil, depois, desconstruir uma ideia falsa. O sarampo chegou a ser dado como erradicado em Portugal. Há pouco tempo reapareceu e já houve vítimas mortais. Estes são dados objectivos. Conseguimos isso com a vacinação, a prevenção, e hoje verificamos que estão a reaparecer casos de sarampo na Europa toda porque algumas pessoas boicotaram a prevenção. Portanto, agora, toda a gente está em risco.
PERFIL
Miguel Castanho, natural de Santarém, licenciou-se em Bioquímica pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (FCUL) em 1990. Doutorou- se em Biofísica Molecular pelo Instituto Superior Técnico, em 1993, aos 26 anos. Detentor de um vasto currículo nas áreas do Ensino e da Investigação, destaca-se ainda a sub-direcção da FMUL (2011-2016) e a vice-presidência da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) (Fevereiro 2016 – Setembro 2017), cargos que aceitou por considerar “ser necessário uma pessoa desafiar- se quando chamado a maiores responsabilidades”. Actualmente mantém-se como Professor Catedrático no Instituto de Bioquímica da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, líder de uma Equipa de Investigação no iMM – o MCastanho Lab. – membro do Conselho de Escola da FMUL e membro do Conselho Editorial da News@FMUL. Foi agraciado com vários prémios e distinções mas, em confidência, destaca e aponta com maior estima os prémios atribuídos pelos alunos (os Golden Harrys de Melhor Professor do Ano na FMUL).






